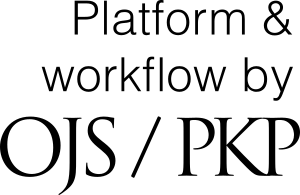SEXUALIDADES “(A)NORMAIS” E EDUCAÇÃO: POSSÍVEIS DIÁLOGOS
Resumo
O importante está em desarranjar a mesmice, a monótona paisagem, para instigar diferentes formas de ver e ser visto. Inventar formas de problematizar a sólida e persistente monotonia de formas rotinizadas[...] (PIGNATELLI, 2011, p.144). A epígrafe acima ilustra o posicionamento que intencionamos nos caminhos investigativos os quais nos propomos seguir em nossa pesquisa de Mestrado, aqui referida. Desarranjar as mesmices não é uma tarefa fácil. No entanto, torna-se útil para materializar a nossa intenção nessa breve escrita, que se desloca em diferentes caminhos para assumir uma postura que pensa a linguagem como prática social capaz de mediar interações importantes nos contextos sociais em que nossos alunos e alunas estão inseridos. Compreendemos, também, a linguagem como elemento capaz de (re)construir sujeitos sociais que são nascidos através de práticas sociais na história, nas instituições e na cultura. Objetiva esta escrita problematizar algumas construções discursivas capazes de colocar à margem ‘outros’ que não estão no centro, são excêntricos, ‘outros’ que não são a norma, são “anormais” (FOUCAULT, 2001; 2010). Para tanto, a discussão tem como sustentação teórica os rastros discursivos foucaultianos e de seus comentadores, numa tentativa de desconstrução, propondo a agitação dos edifícios instituídos na linguagem, capazes de modelar uma norma e excluir outras sexualidades que circulam em diferentes espaços sociais. Problematizaremos, ao longo desse texto: como a linguagem pode construir sujeitos destituídos de sexualidade na sociedade e/ou no contexto escolar? Em que medida professores podem fabricar sujeitos excluídos sexualmente em suas práticas sociais? Moita Lopes (2003) afirma que se vive na contemporaneidade um questionamento de valores e ideologias acerca da vida tradicional que são tidas como “verdades naturalizadas”. Essas verdades tornam-se perigosas, na medida em que se colocam os sujeitos num espaço limitado para exercerem sua sexualidade. Assim, parece que ‘nascer homem’ e ‘nascer mulher’ está carregado de significados previamente instituídos os quais não são questionados. E um dos ambientes eficientes para o questionamento é a escola, pois ela possibilita que saberes e discursos sejam veiculados por instâncias de poder - o professorado, o alunado e a instituição exercem esses poderes, embora essas relações possam ser legitimadas e/ou subvertidas. A escola é reconhecida pela sociedade em função da tradição que veicula (PEREIRA, 2007). Segundo Moita Lopes (2008, p.134), a escola é “uma agência importante na constituição de quem somos e seus discursos podem legitimar outros sentidos sobre quem podemos ser”. Questionar essas maneiras de ser e de estar na sociedade é de fundamental importância para nós, professores e professoras, pois possibilita que outras ‘vozes’ saiam do mutismo e da violência instituída desde há muito em práticas sociais discriminatórias. A diversidade sexual em contextos escolares é um tema que carece ser discutido em sala de aula. No contexto contemporâneo, esses debates são necessários, tendo em vista a desestabilização dos saberes que outrora eram validados como verdades. Possibilitar novas experimentações através da linguagem para a compreensão dos sujeitos sexualmente invisíveis é uma inicial caminhada que promove um reconhecimento e uma prática educativa democrática. Neste sentido, a escola, por ser uma instituição que veicula saberes, produz e marca identidades; corporifica e fabrica sujeitos de acordo com o que o muro de fora ou a sociedade exige. No entanto, essa instituição deve ser questionada sobre as suas propostas pedagógicas capazes de instaurar, em situações formais (contexto de ensino) e informais (brincadeiras tidas como inofensivas), espaços de invisibilidade e violência. Para tanto, indaga-se de que maneira os gizes estão inscrevendo essas identidades ‘dissidentes’ em sala de aula, nas recreações e nos corredores dessa instituição. Nossa experiência nos habilita a afirmar que através de alguns corredores e de algumas salas de aula, identidades normativas são reforçadas, sexualidades centradas numa heterossexualidade obrigatória são legitimadas e construídas a partir da (re)produção discursiva do que pode ou não ser modelo em relação às identidades sexuais. Pode-se verificar que as identidades “desviantes” (FOUCAULT, 2001) não são o modelo, o esperado, o desejado; portanto, não são referências nas escolas (LEÃO, 2009; LEÃO; RIBEIRO, 2009; LOURO, 2003; 2010; MOITA LOPES, 2003; 2008). Pelo contrário, esses sujeitos são tidos como “anormais”, indesejados e estranhos porque estão fora do centro e da referência. Quando nomeadas ou categorizadas, as identidades não normativas são colocadas nos vieses binários, em que o primeiro é sempre o superior, a categoria construída e ensinada para ser o “normal”. Já o segundo é o menor, o inferior, a categoria construída para ser “anormal”. Assim, ao se pensar em professores e professores, alunos e alunas, sujeitos “normais” e “anormais”, vê-se que “regimes de verdade” (FOUCAULT, 2005) são construídos e institucionalizados e que discursos são capazes de destituir o discente de acessar ao seu direito básico: a educação. Assim, por exemplo, basta adentrar os portões da escola e constataremos a invisibilidade dos/as transgêneros/as nesses espaços que deveriam acolhê-los/as. Convidamos educadores e educadoras para uma breve incursão por alguns caminhos que se entrecruzam em relação às sexualidades, ao discurso e à educação, para perceber que essa tríade está em relações imbricadas que se tornam inseparáveis, capazes de fomentar práticas discriminatórias, homofóbicas ou não, de acordo com a tônica que se defende ou se posiciona na linguagem. Enfim, ser professor e professora nessa contemporaneidade é estar em movimento (FERNANDES; LEMES, 2012), em incessante observância aos diferentes arranjos sociais que se (des)formam e (des)constroem .Downloads
Publicado
2014-12-01
Edição
Seção
Comunicação Oral