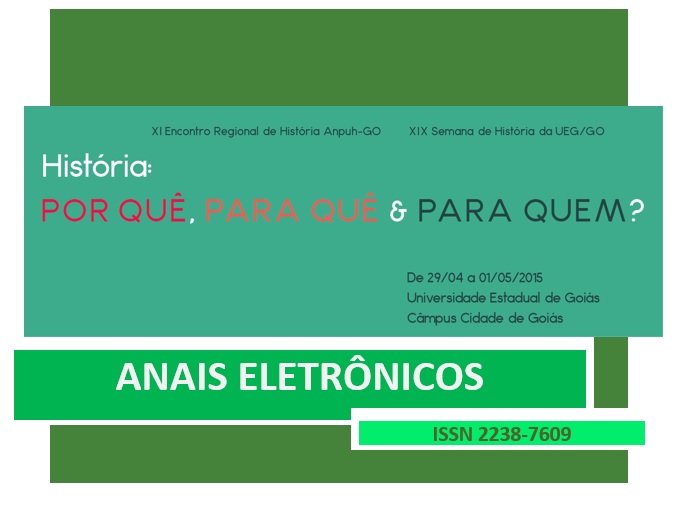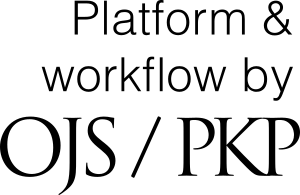CÁLICE/CALE-SE: UMA AULA SOBRE A CENSURA DURANTE A DITADURA BRASILEIRA.
Resumo
Resumo: O presente estudo tem por objetivo discutir e analisar o uso da música, correlacionando-a a disciplina de história. O trabalho campo foi aplicado aos alunos do 3º ano do Colégio Estadual Irmã Gabriela, situado em Goiânia. Tendo como finalidade levar a compreensão, dos discentes, o que viera a ser a censura durante o Regime Militar Brasileiro, compreendido entre 1964 a 1985; época esta em que foram instaurados Atos Institucionais que visava repreender os subversivos que iam contra o poder vigente. O AI 5, especificadamente, ficou conhecido como o “Ato que censura”; através dele os militares perseguiram artistas de todos os âmbitos, prendendo-os e até mesmo exilando-os, buscando dessa forma evitar que a mensagem que esses artistas queriam passar chegasse ao ouvido do povo. A música de protesto foi escrita por inúmeros compositores, sendo entoada em diversos shows, que se iniciaram na esfera universitária e por fim ganharam espaço nos Festivais de Canção, que tivera grande repercussão televisiva. Mas, falar para os jovens dos dias de hoje sobre algo que eles não viveram pode por vezes soar absurdo. Logo, para ilustrar a censura e a música de protesto aos alunos, buscamos trabalhar, em principal, a música “Cálice” de Chico Buarque, confrontando-a a uma versão da mesma gravada recentemente pelo rapper Crioulo. Para tanto introduzimo-nos na linha de pesquisa da Nova História Cultural, História e Música, que ganhou espaço a partir da década de 60 do século XX, apoiando-nos em teóricos como Rüsen, Pesavento e Siman.
Palavras chaves: Música. Ditadura Militar. Ensino de História. Metodologia de Ensino.
I - INTRODUÇÃO
Clio e sua ciência, mesmo com todo o mistério que lhe envolta sobre o passado, nos dias atuais encontra uma dificuldade de se fazer interessante aos olhos dos jovens estudantes. Para alguns não há uma necessidade ou ate mesmo um porque de estudar “coisas velhas”. Mas estudar história vai muito além de tirar o pó de cousas passadas, trabalhar com fatos ocorridos outrora envolve também nos trazer uma compreensão do presente e ate mesmo do futuro.
Vavy Pacheco Borges nos diz que; “o conhecimento histórico serve para nos fazer entender, junto com outras formas de conhecimento, as condições de nossa realidade, tendo em vista o delineamento de nossa atuação na historia”[2]. A professora ainda nos afirma que; “só uma retomada das origens e da evolução dessa história nos podem fazer compreender sua situação atual, que deve ser sempre vista dentro de uma noção de processo”[3].
Ora, estudar a história elucida sobre acontecimentos passados e, de certa forma, trás também esclarecimentos sobre nossa condição presente. Vale ressaltar que o conhecimento que a história produz nunca é perfeito ou acabado, pois se trata de uma ciência cheia de complexidades a qual se soma a outras ciências, como filosofia, sociologia, antropologia, arqueologia, para que, juntas, possam delinear melhor o passado; mas não em busca de uma verdade absoluta, e sim da verossimilhança dos acontecimentos de outrora.
Seguindo a tradução de origem da palavra “historia”, que tem suas raízes enterradas na Grécia e que surge no século V antes de Cristo, empenhamo-nos em investigar o passado em busca constante por informações, pois a natureza humana vive em uma busca incessante de explicar para si próprio sua origem e sua vida.
Heródoto, que é considerado o pai da história por ter sido o primeiro a empregar a palavra um sentido de investigação e pesquisa, em uma de suas primeiras obras justifica que faz a realização de tal trabalho “para impedir que as ações realizadas pelos homens se apaguem com o tempo”[4]. Desta forma, o professor de história encarrega-se da tarefa de trazer à tona a história dos homens e seus feitos, para que a mesma não se dilua com o tempo e nem tampouco para que erros passados voltem a ser cometidos.
Diante do desafio de transformar as aulas de história em algo interessante e ate mesmo em um instrumento que desperte nos alunos o censo crítico sobre a sua realidade, algo imprescindível para sua formação enquanto cidadão, os professores têm encontrado grandes dificuldades para atrair a atenção de seus discentes.
A professora Lana Mara C. Siman nos diz que “a atual política nacional curricular atribui ao ensino da história o papel de formar um novo cidadão que, dentre outras características, seja capaz de compreender a história do país e do mundo como resultante de múltiplas memórias originárias da diversidade das experiências humanas...”[5]. Logo, cabe ao professor transmitir tais conhecimentos históricos buscando uma forma de desenvolver, nos alunos, um censo crítico, levando-os a compreensão da história de seu país, suas origens e sua diversidade cultural. Mas a pergunta em questão é: como repassar em sala de aula, de uma forma que não seja enfadonha e desinteressante, os conhecimentos sobre o passado?
Nos dias atuais os docentes enfrentam uma verdadeira batalha em sala de aula. Os alunos estão munidos de tabletes, celulares modernos com acesso a internet e até mesmo notebooks. Toda esta aparelhagem acaba por ser, aos olhos dos discentes, muito mais interessante do que o conhecimento a qual lhes é oferecido.
Segundo Siman, “a história não é uma ciência fácil, é provavelmente a mais abstrata das disciplinas, já que o historiador trabalha com um ambiente imaginário e utiliza linguagens e conceitos muito complexos”[6]. Mediante tais complexidades resta ao professor uma pergunta: o que e como fazer para que tal conteúdo seja aprendido e absorvido?
Rüsen propõe que,
o aprendizado histórico é uma das dimensões e manifestações da consciência histórica. É o processo fundamental de socialização e individualização humana e forma o núcleo de todas estas operações. A questão básica é como o passado é experienciado e interpretado de modo a compreender o presente e antecipar o futuro. Aprendizado é a estrutura em que diferentes campos de interesse didático estão unidos em uma estrutura coerente. Com respeito ao processo real de ensinar história nas escolas, a ênfase sobre o aprendizado de história pode reanimar o ensino e o aprendizado de história enfatizando o fato de que a história é um lugar de experiência e interpretação. Assim concebida, a didática da história ou ciência do aprendizado histórico demonstra ao historiador as conexões internas entre história, vida prática e aprendizado.[7]
Mediante a colocação de Rüsen, de que o aprendizado histórico tem conexões internas entre história, vida prática e aprendizado; poderíamos buscar elementos da atualidade para que se faça compreender o passado? Sarita Maria Pieroli nos diz que “as Diretrizes Curriculares da Educação apontam para a importância de se analisar os elementos constitutivos da contemporaneidade [...]”[8]. A professora concorda com Circe Bittencourt que afirma que,
hoje, diferentemente do que se pensava na década de 1990, o foco da produção cultural é o aluno e, para tanto, é necessário que o professor saiba como partir de seu conhecimento prévio, ou seja, de seus conceitos espontâneos para que ele atinja o conhecimento científico. Para tanto, faz-se necessário que o professor parta do agora, do presente para que o aluno possa entender o passado, do menos complexo para problemas de maior complexidade como, por exemplo, o trabalho documental através da análise musical.[9]
Desse modo, o que propomos é trabalhar com a música para explanar o período da ditadura militar brasileira e a censura[10] que foi implantada durante o regime militar. E, para que tal explicação venha ficar mais interessante aos olhos e ouvidos dos alunos, a proposta é trabalhar com músicas dos dias atuais e músicas do período ditatorial, despertando assim nos discentes o interesse e a compreensão do que se passou nos anos de chumbo, onde a liberdade de se expressar, de varias formas, fora cerceada.
A proposta é mostrar a eles que palavras e pensamentos, que hoje, encontramos em diversas músicas dos mais variados estilos, dantes eram vetadas ou ainda tinham que ser modificadas, tudo isso para que esta forma de expressão não ferisse o Ato Institucional 5[11]. Essa ficou conhecida como a lei da censura que, durante o período da ditadura civil-militar, barrou parcial ou integralmente obras que estavam sendo produzidas, seja no âmbito teatral, cinematográfico, jornalístico ou ainda musical, para que tais obras não alimentasse nenhum tipo de pensamento contrario ao regime militar brasileiro.
Foi a partir do ano de 1968, período do acirramento militar, que inúmeras obras musicais, as quais através de suas letras (músicas de protesto) os artistas buscavam demonstrar a sua insatisfação com o regime de governo que os regia, foram barradas; os músicos perseguidos ou até mesmo exilados do país. Liberdade de expressão tornava-se assim um sonho a ser conquistado a um preço alto.
II - A música pode contar história?
A história passa por uma mudança de curso no século XX. A criação da revista dos Annales, que logo mais seria conhecida como a Escola dos Annales trouxe questionamentos para o campo historiográfico, o que fica conhecido como a ruptura dos paradigmas. Sandra Pesavento nos diz que “nos anos 60 e 70, sintomas de mudanças dos paradigmas se fizeram sentir dentro do próprio campo dos historiadores. Uma nova história social passou a se desenvolver [...]”[12]. Nessa nova perspectiva a cultura era vista como agente decisivo no processo de mudança da história. A história social tem a sua preocupação com o povo, e não somente com o político. Pesavento ainda nos diz que:
essa nova história social privilegiou a experiência de classe em detrimento do enfoque da luta de classes, centrou sua analise na estruturação de uma consciência e de uma identidade e buscou resgatar as práticas cotidianas da existência [13].
A história passa por uma mudança de curso até chegar ao campo que é compreendido enquanto História Cultural, e é nessa área que a música pode ser explorada enquanto fonte.
[...] a música, sobretudo a popular, pode ser compreendida como parte constitutiva de uma trama repleta de contradições e tensões em que os sujeitos sociais, com suas relações e praticas coletivas e individuais e por meio dos sons, vão (re) construir partes da realidade social e cultural.[14]
As músicas de protesto tomam conta de parte da cena cultural dos anos compreendidos entre 68 a 85 e que por sua vez acabou sendo alvo dos censores por serem consideradas subversivas.[15] Dentro desse contexto as músicas de protesto tomam conta de parte desta cena cultural e por sua vez acabou sendo alvo dos censores.
Moraes nos alerta que para tal trabalho, temos que levar em consideração três aspectos que seria: “a linguagem da canção, a visão de mundo que ela incorpora e traduz, e, finalmente, a perspectiva social e histórica que ela revela e constrói”.[16]
Utilizaremos músicas, tanto do período ditatorial quanto dos dias atuais, para explorar com os alunos a censura durante o período da ditadura militar brasileira, fazendo uma equiparação com a liberdade de expressão que temos nos dias atuais.
III - Uma aula para se ouvir, cantar e pensar.
As aulas foram ministradas no Colégio Estadual Irmã Gabriela[17] nas turmas do 3º ano do ensino médio. O tema que estava sendo trabalhado com os alunos era sobre o Golpe de 64 e após três aulas explanando sobre o assunto, buscamos falar sobre o desfecho da ditadura civil-militar brasileira através da música, pois através desta podemos falar sobre as perseguições, os sonhos de liberdade e a esperança de dias melhores.
Pieroli nos diz que,
parece ter sido bastante comum nos últimos anos, a utilização da canção como fonte de pesquisa histórica e como recurso didático em sala de aula, auxiliando o aluno na construção de seu conhecimento histórico, a música permite a compreensão da nossa identidade e da história do nosso país, de tal maneira que quando escutamos uma canção, essa nos reporta a um momento inesquecível da nossa vida, ou que marcou a vida do país.[18]
Podemos nos assegurar ainda sobre tal conceito através das palavras de Cunha citadas por Pieroli que nos diz que,
quem vivenciou o período da ditadura militar, sabe que uma canção acabou se transformando em hino e em um símbolo da resistência ao governo militar. Foi à música Pra não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré, cantada de forma emocionada no Festival Internacional da Canção em 1968, e silenciada, assim como seu autor, até 1979, e que passou a ser mais conhecida por Caminhando.[19]
No dia 31 de março de 2014 o blog controvérsia lançou uma matéria[20] em que o blogueiro Ricardo explica de forma concisa 10, das inúmeras, músicas censuradas durante o regime civil-militar. Destas, selecionamos 6 canções para trabalhar com os alunos em sala de aula, sendo elas: Alegria, Alegria – Caetano Veloso; Caminhando (Pra não dizer que não falei das flores) – Geraldo Vandré; Cálice – Chico Buarque; Mosca na Sopa – Raul Seixas; Apesar de Você – Chico Buarque; e Que as Crianças Cantem Livres – Taiguara.
Ricardo nos diz que a música Alegria, Alegria
[...] valorizava a ironia, a rebeldia e o anarquismo a partir de fragmentos do dia-a-dia. Em cada verso, revelações da opressão ao cidadão em todas as esferas sociais. A letra critica o abuso do poder e da violência, as más condições do contexto educacional e cultural estabelecido pelos militares, aos quais interessava formar brasileiros alienados.
Trecho: “O sol se reparte em crimes/Espaçonaves, guerrilhas/Em cardinales bonitas/Eu vou…”.[21]
Sobre a canção Mosca na Sopa o blogueiro relata que
[...] a letra faz uma referência clara à ditadura militar. Através de uma metáfora, o povo é a “mosca” e, a ditadura militar, “a sopa”. Desta forma, o povo é apresentado como aquele que incomoda, que não pode ser eliminado, pois sempre vão existir aqueles que se levantam contra regimes opressores.
Trecho: “E não adianta / Vir me detetizar / Pois nem o DDT / Pode assim me exterminar / Porque você mata uma / E vem outra em meu lugar…”.[22]
Já a letra da música, Apesar de você, que em um primeiro momento parece estar falando de amor, na verdade faz uma referência ao então presidente Médici
[...] para driblar a censura, ele afirmou que a música contava a história de uma briga de casal, cuja esposa era muito autoritária. A desculpa funcionou e o disco foi gravado, mas os oficiais do exército logo perceberam a real intenção e a canção foi proibida de tocar nas rádios.
Trecho: Quando chegar o momento / Esse meu sofrimento / Vou cobrar com juros. Juro! / Todo esse amor reprimido / Esse grito contido / Esse samba no escuro.[23]
E para falar sobre a esperança de dias melhores cita-se a composição de Taiguara, que de acordo com o a matéria[24] foi
um dos artistas mais perseguidos durante a ditadura militar. Taiguara teve 68 canções censuradas, durante o período de maior endurecimento do regime, no fim da década de 1960 até meados da década de 1970.
Trecho: “E que as crianças cantem livres sobre os muros / E ensinem sonho ao que não pode amar sem dor / E que o passado abra os presentes pro futuro / Que não dormiu e preparou o amanhecer…”.[25]
Após tais explicações serem feitas, foi introduzido um trecho da música de Geraldo Vandré a qual se transformou em um hino para aqueles que lutavam contra a ditadura civil-militar. Ao ouvirem “Pra não dizer que falei das flores”, vários dos alunos que lá estavam reconheceram-na logo de imediato.
Em seguida foi tocado um trecho da música “Cálice”; logo quando Chico Buarque diz “Pai, afasta de mim esse cálice”, um aluno se pronunciou dizendo: “mas professora, esta música se parece com uma do Criolo”. Desta maneira um dos objetivos foi atingido.
A música Cálice foi censurada e liberada apenas 5 anos mais tarde, o titulo carrega uma ambiguidade onde cálice, pode ser compreendido como cale-se. Podemos afirmar tal fato através das palavras do blogueiro que nos diz que a canção que foi
lançada por Chico Buarque em 1973, faz alusão a oração de Jesus Cristo dirigida a Deus no Jardim do Getsêmane: “Pai, afasta de mim este cálice”. Para quem lutava pela democracia, o silêncio também era uma forma de morte. Para os ditadores, a morte era uma forma de silêncio. Daí nasceu a ideia de Chico Buarque: explorar a sonoridade e o duplo sentido das palavras “cálice” e “cale-se” para criticar o regime instaurado.
Trecho: De muito gorda a porca já não anda (Cálice!) / De muito usada a faca já não corta / Como é difícil, Pai, abrir a porta (Cálice!) / Essa palavra presa na garganta.[26]
Criolo[27] fizera uma versão da música utilizando-se de problemas da atualidade a qual uma parte da população brasileira enfrenta. O rap, música conhecida por seu teor de protesto, vai de encontro com as músicas da MPB escritas durante o período ditatorial. A diferença é que, hoje já não há mais a censura. A música originalmente nos diz em seu refrão;
Pai, afasta de mim este cálice
Pai, afasta de mim este cálice
Pai, afasta de mim este cálice
De vinho tinto de sangue.[28]
Já a versão da música Cálice cantada pelo rapper, em seu refrão diz;
Pai
afasta de mim a biqueira, pai
afasta de mim a biate, pai
afasta de mim a coqueine, pai.
Pois na quebrada escorre sangue.[29]
A música escrita no ano de 1973, fala sobre o silencio a qual os artistas e aqueles que eram contrários a tal regime de governo eram submetidos pela censura. Já a música do Criolo, fala sobre problemas que uma parcela da população enfrenta e o músico utiliza-se da música como que um grito de protesto. A partir dessa abordagem, utilizando músicas da atualidade e do período ditatorial, os alunos acabaram por ter uma maior compreensão do que de fato veio a ser a censura no Brasil durante o período em que vigorou o regime militar brasileiro.
IV - Considerações finais
Lecionar nos dias atuais parece ser uma tarefa árdua, porém não chega a ser impossível. O interesse tem que partir dos alunos, mas será que não cabe também ao docente despertar este interesse neles?
Se hoje estes jovens estão mais interessados em tecnologias e afins, por que não se render a esses meios para que se possa aproximar um pouco mais deles? Se essas ferramentas modernas vieram para “facilitar” nossas vidas e nos “aproximar” uns dos outros por que não utilizá-las? E mais ainda, se o presente é um reflexo do passado, porque não se utilizar da conjuntura atual para nos remeter a algo já decorrido?
Através deste trabalho podemos observar que uma aula de história não precisa necessariamente ficar presa a livros, que podemos buscar através de outras fontes ascender, nos discentes, o interesse pelo passado através de algo que encontramos na atualidade.
A linguagem deste tempo já não é a mesma de outrora, o silêncio a que um povo é submetido não esta tão escancarado, porém ele nunca deixou de existir. Logo, explicar a ditadura pela ditadura e/ou a censura pela censura não seria tão compreensível a estes jovens sem mostrar a eles que mesmo nos dias de hoje ela ainda é exercida, assim como podemos observar nesta ultima música, apresentada em sala de aula, em que a banda O Rappa relata a realidade que por alguns é vivida, através dos seguintes versos:
A viatura foi chegando devagar
E de repente, de repente resolveu me parar
Um dos caras saiu de lá de dentro
Já dizendo, ai compadre, cê perdeu
Se eu tiver que procurar cê ta fodido
Acho melhor cê i deixando esse flagrante comigo
No início eram três, depois vieram mais quatro
Agora eram sete os samurais da extorsão
Vasculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso
Cheirando a minha mão
De geração em geração
Todos no bairro já conhecem essa lição
E eu ainda tentei argumentá
Mas, tapa na cara pra me desmoralizar
Tapa, tapa na cara pra mostra quem é que manda
Porque os cavalos corredores ainda estão na banca
Nesta cruzada de noite, encruzilhada
Arriscando a palavra democrata
Como um santo graal
Na mão errada dos hômi
Carregada em devoção
De geração em geração
Todos no bairro já conhecem essa lição
O cano do fuzil
Refletiu o lado ruim do Brasil
Nos olhos de quem quer
E quem me viu, único civil
Rodeado de soldados
Como seu eu fosse o culpado
No fundo querendo estar
A margem do seu pesadelo
Estar acima do biótipo suspeito
Nem que seja dentro de um carro importado
Com um salário suspeito
Endossando a impunidade
A procura de respeito
(Mas nesta hora) só tem (sangue quente)
Quem tem (costa quente, quente, quente)
Só (costa quente, quente, quente)
Só costa quente, pois nem sempre é inteligente
(Peitar) peitar, peitar (um fardado alucinado)
Que te agride e ofende (pa te levar, levar, levar)
Pra te levar alguns trocados (diz aê)
Pra te levar, levar, levar
Pra te levar alguns trocados (segue a mão)
Era só mais uma dura
Resquício de ditadura
Mostrando a mentalidade
De quem se sente autoridade
Nesse tribunal de rua
Nesse tribunal
Nesse tribunal rua.[30]
Sendo assim, através da música de protesto dos dias atuais, rap, podemos explorar as músicas de protesto do período ditatorial brasileiro, MPB, levando os jovens alunos a ter uma maior compreensão do que de fato veio a ser esse governo que implantou a lei da censura, repressão e perseguição a uma parcela do povo brasileiro.
FONTES
PIEROLI, Sarita Maria. Ditadura Militar no Brasil (pós 64) através da música: uma experiência em sala de aula. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/648-4.pdf Acessado em 08/11/2014 às 00h29min. apud. SIMAN.
RICARDO, 10 Músicas de protesto a ditadura militar. Disponível em: http://www.controversia.com.br/blog/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/http://www.controversia.com.br/blog/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/.
BIBLIOGRAFIA
BORGES, Vavy Pacheco. O que é história. 13º Ed. São Paulo: Brasiliense, 1980.
ISHAQ, Vivian. A escrita da repressão e da subversão, 1964-1985. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2012.
MORAES, José Geraldo Vinci de. História e música: canção popular e conhecimento histórico. Revista Brasileira de História, Volume 20, n. 39, São Paulo. 2000.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História Cultural. 2º Ed. Belo Horizonte: Autentica, 2004.
RUSEN, Jorn. Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão. Práxis Educativa. Ponta Grossa: v. 1, n.2, 2006.
ARTIGO
SIMAN, Lana Mara C., Representações memorias sociais compartilhadas: Desafio para os processos de ensino e aprendizagem da história. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n67/a07v2567.pdf.
[1]-Graduada em História pela Pontífice Universidade Católica do Estado de Goiás.
[2] BORGES, Vavy Pacheco. O que é história. 13º Ed. São Paulo: Brasiliense, 1980. p.45.
[3] Idem, p. 43.
[4] BORGES, Apud HERÓDOTO, p.18.
[5] SIMAN, Lana Mara C., Representações memorias sociais compartilhadas: Desafio para os processos de ensino e aprendizagem da história. Acessado em: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n67/a07v2567.pdf 10/11/2014 às 11:49.
[6] PIEROLI, Sarita Maria. Ditadura Militar no Brasil (pós 64) através da música: uma experiência em sala de aula. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/648-4.pdf Acessado em 08/11/2014 às 00h29min. apud SIMAN. p. 2.
[7] RUSEN, Jorn. Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão. Práxis Educativa. Ponta Grossa: v. 1, n.2, 2006. p. 6.
[8] PIEROLI, Sarita Maria. Ditadura Militar no Brasil (pós 64) através da música: uma experiência em sala de aula. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/648-4.pdf Acessado em 08/11/2014 às 00h29min. p. 7.
[9] PIEROLI, apud, BITTENCOURT, 2004. p. 7.
[10] A censura durante o regime militar se estrutura legalmente a partir da promulgação da Lei de Imprensa, de 14 de março de 1967. Não obstante, desde o Ato Institucional n. 2, de 27 de outubro de 1965, o governo Castello Branco tentava controlar a produção jornalística do país, sobretudo os jornais e jornalistas críticos ao regime, restringindo a chamada “propaganda de guerra, de subversão da ordem ou preconceitos de raça ou classe”. A censura recrudesceu em 1968 por duas razões: o Ato Institucional n. 5 deu poderes ao presidente para impor censura prévia aos meios de comunicação e, naquele mesmo ano, foi criado o Conselho Superior de Censura, subordinado ao Ministério da Justiça, com competência de apenas rever, em grau de recurso, as decisões censórias proferidas pelo diretor-geral do Departamento de Policia Federal. Ao Conselho Superior de Censura era atribuída, ainda, a incumbência de elaborar normas e critérios que orientassem o exercício da censura e que fossem submetidos à aprovação do titular da pasta da Justiça. O referido Conselho era constituído por representantes dos órgãos governamentais e entidades civis, num total de 15 membros efetivos e respectivos suplentes. A partir de 1972, a atividade de censura passou a ser realizada pela Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), estrutura dentro do Departamento de Policia Federal. Fonte do verbete: SNI, ACE A047665 (Agencia Central, 1985). ISHAQ, Vivian. A escrita da repressão e da subversão, 1964-1985. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2012. p. 83.
[11] Ato Institucional n. 5 (AI – 5) – decretado em 13 de dezembro de 1968, durante o fechamento do Congresso pelo presidente Costa e Silva (1899 – 1969), no auge do autoritarismo. Suspendia as garantias constitucionais e o direito de habeas corpus, dando ao presidente o poder de intervir nos estados e municípios, decretar estado de sítio por tempo ilimitado sem aprovação do Congresso Nacional, cessar mandatos e suspender por dez anos os direitos políticos de um cidadão e demitir ou reformar oficiais das Forças Armadas e das polícias militares. ISHAQ, et al. 2012. p. 68.
[12] PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História Cultural. 2º Ed. Belo Horizonte: Autentica, 2004. p. 28.
[13] PESAVENTO, pg. 30.
[14] MORAES, José Geraldo Vinci de. História e música: canção popular e conhecimento histórico. Revista Brasileira de História, Volume 20, n. 39, São Paulo. 2000.
[15] O manual de Segurança e Informações, produzido pelos órgãos de informação do governo militar em 1971, definiu subversão como “a forma de guerra irregular que visa minar a estrutura militar, econômica, social, moral e politica de um regime”. Dessa forma, as ações subversivas “possuíam caráter predominante psicológico, buscando conquistar as populações para um movimento politico-revolucionário pela destruição das bases fundamentais da comunidade que integram”. Em outro documento elaborado pelo regime, o termo é definido como “o emprego planejado da propaganda e de outras ações, principalmente de cunho psicológico, com o objetivo de obter o apoio da população para um movimento revolucionário”. Dessa maneira, foram enquadrados como “subversivas” pessoas, textos, canções, filmes, e imagens que pudessem comprometer, segundo a ótica do governo, a credibilidade das novas autoridades ou do status quo social. Segundo documentos elaborados pelo Serviço nacional de Informações (SNI), o processo subversivo consistia no “[...] apoio da população; inicialmente sem violência por meio da destruição da comunidade de seus valores morais; ações violentas que objetivam repercussão sobre a população; emprego de atos de terrorismo, sequestros e sabotagem sem características de luta armada, culminando com a conquista do poder”. Em outro momento, o Ministério do Exercito relatou em um documento de 1972 como agir diante do inimigo: “Se o subversivo esboçar reação atirem e atirem para matar. Lembrem-se de que nesta guerra suja não existem maneiras corretas ou erradas de vencer. Existem, somente, vitórias ou mortes”. Fonte do verbete: Assessoria de Segurança e Informação da Universidade de Brasília, Série Legislação, normas e procedimentos, BRANBSB AA1.LGSL004;BRANBSB AA1.LGS.006; Divisão de Inteligência do Departamento de Policia Federal, BRANBSB ZD, caixa 22-A, p. 1-15. ISHAQUE, 2012. p. 279 a 281.
[16] MORAES, 2000.
[17] Colégio onde desenvolvo os projetos através do PIBID e programa de Estágio Supervisionado.
[18] PIEROLI, 2007. p. 07.
[19] PIEROLI, apud CUNHA 2005, p. 8.
[20] Disponível em: http://www.controversia.com.br/blog/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/http://www.controversia.com.br/blog/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/ Acessado em 23/09/09/2014 às 14h57min.
[21] Idem.
[22] Disponível em: http://www.controversia.com.br/blog/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/http://www.controversia.com.br/blog/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/ Acessado em 23/09/09/2014 às 14h57min.
[23] Idem.
[24] Disponível em: http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2014/11/03/compositor-mais-censurado-na-ditadura-taiguara-revive-com-ineditas-e-livro.htm Acessado em: 02/11/2014 às 23h15min.
[25] Disponível em: http://www.controversia.com.br/blog/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/http://www.controversia.com.br/blog/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/ Acessado em 23/09/09/2014 às 14h57min.
[26] Disponível em: http://www.controversia.com.br/blog/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/http://www.controversia.com.br/blog/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/ Acessado em 23/09/09/2014 às 14h57min..
[27] Kleber Cavalcante Gomes, rapper brasileiro.
[28] Disponível em: http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/calice.html acessado em 12/11/2014 às 13h23min.
[29] Disponível em: http://www.vagalume.com.br/criolo/calice.html acessado em 12/11/2014 às 13h24min.
[30] Música Tribunal de Rua, O Rappa. Disponível em: http://letras.mus.br/o-rappa/47772/ acessado em: 12/11/2014 as 14h03min.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
1. Proposta de Política para Periódicos de Acesso Livre
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
- Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).